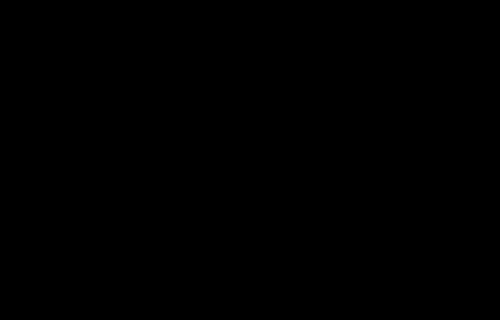Ativistas debatem raça e gênero no Brasil e no mundo
ENTREVISTADOS
MEDIAÇÃO
“O lugar de onde você olha para a sociedade impede que veja algumas das questões, urgências que outros grupos colocariam como necessárias”, defende a escritora e militante LGBT Amara Moira. Ela e a filósofa e ativista do feminismo negro Djamila Ribeiro são entrevistadas pelo UM BRASIL e falam de ativismo, direitos das minorias, discriminações de gênero, raça e classe e defendem uma postura ativa de crítica para combater desigualdades.
“A gente vem trazer narrativas de incômodo, porque os cidadãos precisam se incomodar e entender o que significa o privilégio que vem sistematicamente sendo produzido à custa da opressão de outros grupos”, explica Djamila. Para ela, falta consciência para compreender que é responsabilidade também dos grupos privilegiados mudar o estado de coisas, caso contrário, cria-se a impressão de que apenas os grupos oprimidos devem falar sobre certos temas. Ela defende que o questionamento de privilégios feito com base em pontos de vista variados.
“Eu tenho de pensar sobre minha condição o tempo inteiro, porque as pessoas não esquecem que sou negra nos espaços que chego ou na forma em que sou abordada”, explica a filósofa. Segundo ela, é necessário pensar a branquitude como metáfora de poder e refletir sobre o que significa ser branco nesta sociedade.
“Quando falamos de racismo, são relações raciais, mas acham que temos de discutir o tema sempre pelo ponto de vista do negro. Não se pensa o que significa ser branco, ter privilégios e não se reflete sobre quanto o sujeito encarna aquela metáfora do poder”, justifica. Questionadas sobre as críticas que veriam suas análises como excessivamente “politicamente corretas”, elas explicam que a partir do momento em que vozes historicamente silenciadas começam a fazer frente ao status quo, quem está no poder se incomoda.
“É um bom sinal”, explica Djamila. “É necessário incomodar e as pessoas perceberem que nenhuma mudança vem sem conflito.” Amara concorda: “Isso acontece quando se quer propor outro olhar sobre aquele material, um olhar que não seja conivente com a violência que está sendo perpetrada”. Elas comentam que ser feminista é uma postura por si só incômoda. “Há um grupo que se sente ameaçado porque quer se manter em sua posição confortável, e é preciso perder o medo disso”, diz Djamila.
“Esse outro olhar que os movimentos sociais trazem tem penetração na sociedade como um todo. Isso é significativo de uma sociedade que se dá conta de que a linguagem é capaz de jogar grupos à margem. A linguagem tem poder – e cobrar que as pessoas que usam da linguagem sejam responsáveis por aquilo que dizem é o mínimo”, diz a militante Amara Moira.
“Alguns não estão acostumados a serem questionados, a entender que sua palavra pode violentar outros grupos.” “É necessário que a gente tenha minimamente respeito por outras subjetividades”, concorda Djamila. Acerca das discussões que envolvem a proibição da abordagem de assuntos relacionados ao gênero nas escolas, Moira analisa que gênero não é simplesmente a forma como as pessoas se entendem, é também pensar para onde as violências se dirigem.
“É uma questão analítica da sociedade, e poder discuti-la é poder falar sobre a criação para a fragilidade, sobre assédio na rua, todas estas microviolências que você pode cometer sobre a outra pessoa sem que se dê conta”, afirma. “Não debater esses temas naturaliza as violências”, explica Djamila. “As pessoas refutam uma ideologia de gênero, mas, na minha visão, ela já existe e é essa em que a cada cinco minutos uma mulher é agredida. Quando queremos estudar esses temas na escola, é justamente para combater essas violências que são postas nessa ideologia dominante”, diz.
Ainda assim, as entrevistadas apresentam dados que mostram que tanto o sistema de ensino quanto o vestibular podem ser excludentes: entre os dez livros recomendados para o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, apenas um foi escrito por uma mulher. Já entre os 12 recomendados pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), há apenas um conto escrito por uma mulher.
Sobre a ativista norte-americana Ângela Davis, elas afirmam não se tratar de uma acadêmica “de gabinete”, pois ela não está alheia as coisas que acontecem no mundo. “Ela nos ensina que precisamos pensar em outro projeto de sociedade, pois estamos viciados, como movimento, em pensar apenas as opressões que nos dizem respeito” explica Djamila.
“Não dá para ser feminista e não se engajar na luta antirracista, por exemplo. Tudo nos interessa enquanto feministas, pois estamos pensando outra sociedade.” “As pessoas mais inteligentes também podem ser coniventes com esses discursos que mantêm a sociedade como ela está. A universidade gosta de produzir conhecimento para um pequeno grupo de iniciados”, conclui Amara.
ENTREVISTADOS


CONTEÚDOS RELACIONADOS
 Entrevista
Entrevista
Regulação pode conter os perigos das plataformas digitais e da Inteligência Artificial
Jornalista Eugênio Bucci discute o fenômeno da desinformação na era das novas tecnologias
ver em detalhes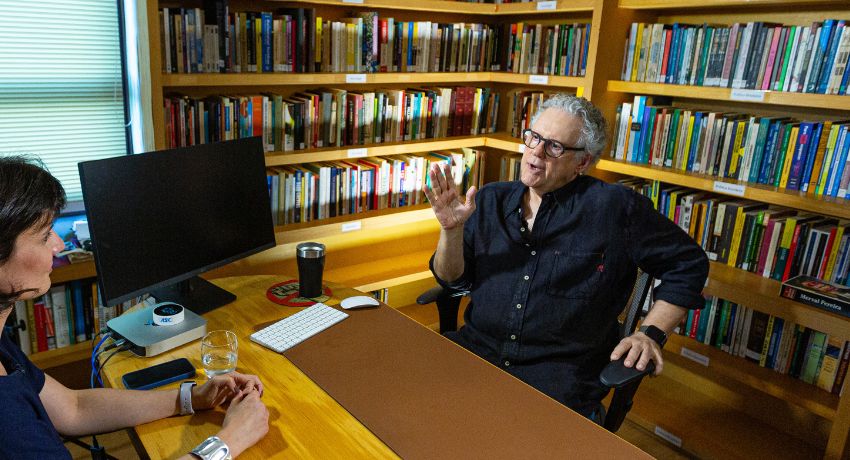 Entrevista
Entrevista
Será preciso buscar soluções para amenizar a ausência dos Estados Unidos nos acordos climáticos
O sociólogo Sérgio Abranches comenta os dilemas socioambientais no Brasil e no mundo
ver em detalhes Entrevista
Entrevista
Insegurança jurídica é obstáculo para desenvolvimento ‘verde’
Brasil pode ser um grande responsável pela segurança energética do mundo, mas esbarra em entraves regulatórios, avalia Adriano Pires, do CBIE
ver em detalhes